"Guerra nas Estrelas" x "Star Wars": um conflito de gerações
Chegou o grande dia. A partir de hoje, precisamente na virada desta quarta para a quinta-feira que milhões de pessoas começarão a saber se valeu a pena esperar pelo episódio mais recente da saga criada por George Lucas nos anos 70. Estamos a algumas horas para saber se a Disney vai conseguir transformar uma das grifes mais populares do mundo do entretenimento em uma galinha dos ovos de diamante e se J.J. Abrams vai entrar para a história como salvador ou coveiro da história da família Skywalker. Pois a partir das primeiras sessões abertas ao público, algumas horas após o primeiro minuto da quinta-feira, começaremos a saber o destino de Guerra nas Estrelas.
Guerra nas Estrelas. Guerra. Nas. Estrelas. Guerra nas Estrelas e não Star Wars. Dezenas de leitores já vieram me corrigir – alguns pedindo com certo cuidado, como um toque de amigo, outros com a típica truculência de comentaristas de portal -, explicando que o jeito certo de se referir à série é este. Me desculpe, mas esse jeito certo não existe. Se a Lucasfilm padronizou que todos os lançamentos devem ser referidos mundialmente com seu título original em inglês, isso é uma questão de marketing, de publicidade. O público não precisa seguir estas regras, só quem quiser ganhar dinheiro com esta marca com sua chancela oficial. Imagine se os herdeiros de Hitchcock nos obrigassem a chamar Um Corpo que Cai como Vertigo ou Festim Diabólico de Rope. É assim que me sinto se tenho que me referir a Guerra nas Estrelas por seu título em inglês.
Culpe – culpo – a idade. Só consigo me referir à série em seu título original em inglês se estiver falando ou escrevendo neste idioma. Sou exatamente da geração que foi conquistada pelos primeiríssimos filmes, na virada dos anos 70 para os anos 80, uma geração para a qual o filme foi apresentado com seu nome traduzido. E foi justamente o sucesso inusitado desta novidade junto à minha geração que permitiu essa padronização global do entretenimento.
Pois antes de Guerra nas Estrelas o cinema não era propriamente uma indústria nem tinha ares globais. Os estúdios norte-americanos compensavam a crise comercial dos anos 60 – quando quase afundaram – apostando em riscos assumidos por jovens da geração hippie, que começavam a colocar suas manguinhas de fora e experimentar novos formatos. Se isso não acontecesse não teríamos O Poderoso Chefão, Operação França, Taxi Driver, Um Touro Indomável, A Primeira Noite de Um Homem, Bonnie e Clyde, O Exorcista e os dois filhos caçulas dessa safra de obras-primas – Tubarão e Guerra nas Estrelas.
Estes novos autores – Coppola, Scorsese, Altman, Friedkin, Lucas e Spielberg, entre outros – aplicavam em cenários e personagens norte-americanos aulas aprendidas com o cinema europeu e asiático, principalmente, quando a maioria dos países do mundo tinha um sotaque específico em sua produção local. Isso enriqueceu o vocabulário cinematográfico dos estúdios de tal forma que ajudou-o a demolir clichês e recuperar público para as salas de cinema, que terminaram os anos 60 quase vazias.
E quando esta geração conseguiu fazer as pessoas voltarem a assistir filmes no cinema, os dois cineastas mais jovens da turma fizeram o público voltar às massas apenas fazendo filmes que gostariam de assistir se fossem mais novos. Spielberg deu o pontapé desta nova era com o primeiro arrasa-quarteirão (como nós nos referíamos ao termo blockbuster naqueles tempos) da história do cinema, Tubarão. Depois, junto com seu amigo George Lucas, recriaram os filmes que gostavam de ver quando eram crianças para as novas gerações, em duas das melhores trilogias da história do cinema: a série original Guerra nas Estrelas e os três filmes protagonizados pelo arqueólogo Indiana Jones. (Essa história é contada detalhadamente no livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'roll Salvou Hollywood, de Peter Biskind, que saiu no Brasil pela editora Intrínseca.)
Foi a partir destes filmes – e de vários outros subprodutos – que o cinema começou a ganhar musculatura de indústria de fato. Antes de Guerra nas Estrelas os filmes não tinham um dia determinado para estrear nos cinemas, nem havia o compromisso de lançar um filme nacionalmente – muito menos internacionalmente – num mesmíssimo dia. O próprio mercado internacional ficava em segundo plano para os estúdios por não render tanto dinheiro quanto o mercado norte-americano. Não havia produto licenciado de filme nenhum (nem camisetas, nem bonecos, nem bonés, nem nada), não havia campanhas publicitárias na TV anunciando filmes no cinema, nem videogames inspirados em filmes (mesmo porque a própria indústria dos videogames estava começando a engatinhar).
Esse mesmo movimento acabou criando as cadeias de salas de cinema, deu origem às bomboniéres com baldes de pipoca e de refrigerante e inúmeras opções de doces e balas, deu ênfase aos efeitos especiais e a filmes feitos para crianças e adolescentes, tirou os cinemas das ruas e os levou para os shopping centers, transformou computação gráfica e a tecnologia 3D em minas de ouro, prefere apostar em continuações, adaptações e remakes do que em histórias originais.
E também transformou o cinema em uma indústria global que impõe o inglês como idioma do mundo. Em algum lugar dos anos 80 paramos de chamar os filmes de Os Irmãos Cara de Pau, O Clube dos Cafajestes e Curtindo a Vida Adoidado para nos referir a eles como Robocop, Mad Max e Ghost, com subtítulos horríveis e tão genéricos quanto os telefilmes que passam sábado à noite na TV aberta. Me admira que ainda haja filmes gigantescos que têm títulos traduzidos para o português, como Velozes e Furiosos ou Se Beber Não Case. Imaginava que iríamos nos referir a eles apenas como Fast & Furious ou Hangover como chamamos quase todos os longas recentes de animação (Toy Story, Up, Wall-E, Shrek) e as séries de TV deste século (Lost, Breaking Bad, Mad Men, The Walking Dead, House of Cards).
Não é nem uma questão de resistência, apenas de hábito. Me refiro à saga de George Lucas como Guerra nas Estrelas da mesma forma como não consigo chamar o Iron Maiden como Maiden, como repete a nova geração de fãs da banda. Pra mim sempre vai ser o Iron. Ou como os mutantes da Marvel – para a minha geração, Xis Men; para os mais novos, Ecs Men. Pode ser que no futuro outras gerações se refiram ao Goofy, ao Top Cat ou à Olive Oil. Pra mim, eles sempre serão Pateta, Manda Chuva e Olivia Palito.
Por isso quando, em alguns minutos, o logo da série pular na minha cara com os acordes de seu clássico tema, acionando mentalmente toda a retrospectiva emocional que a série causou à minha geração (o encanto com a trilogia original, a frustração com a nova trilogia) não vou conseguir desvincular este momento do fato de pertencer a um grupo de pessoas (cada vez menor) que conheceu um mundo em que não existia Guerra nas Estrelas. Que a Força esteja conosco…



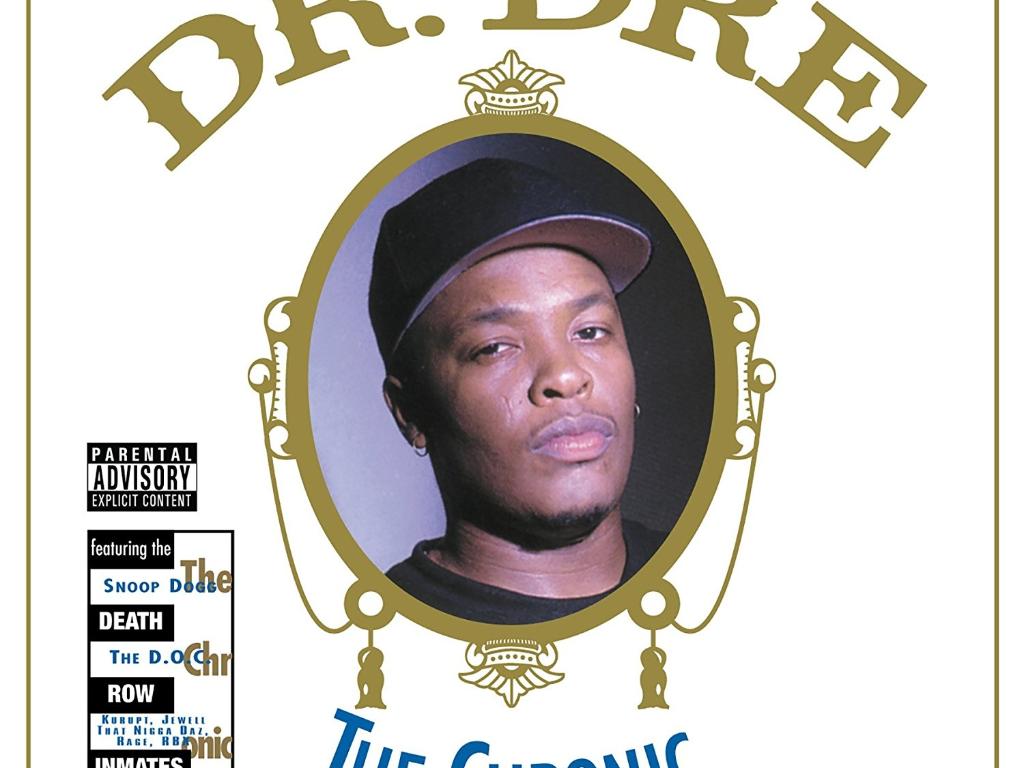





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.