O novo "True Detective" não supera o original - mas promete
True Detective fez o ano passado começar na marra, ao apresentar logo em janeiro uma série em que um único autor (Nic Pizzolatto) e um único diretor (Cary Fukunaga) contavam um caso policial que misturava religião, perversão sexual, imaginário sobrenatural e requintes de crueldade investigados por dois detetives anti-heróis antagônicos: um bardo niilista à beira do abismo existencial (o Rust Cohle de Matthew McConaughey já é um dos personagens e uma das atuações mais importantes da ficção desta década) e um bonachão truculento cheio de esqueletos no armário (o Marty Hart de Woody Harrelson). Uma surpresa borbulhando tensão, envolta num exercício de estilo, a primeira leva de episódios da série tinha outra novidade: cada temporada seria reinventada do zero, com novos atores, cenário e personagens, sem nenhum vínculo com a anterior a não ser o gênero policial e o cenho franzido da narrativa pesada de seu autor.
Isso criou um enorme problema para a segunda temporada, que estreia neste domingo, simultaneamente aos EUA, pelo canal pago HBO. Além de obrigar a nos despedir de um universo criado para poucas horas de TV (ou em um longo filme de oito horas, de outro ponto de vista), ainda cogita um desafio hercúleo para seu autor – se superar. E, pelo menos nos três episódios que pude assistir da segunda temporada, ele não consegue.
Mas isso não quer dizer que tenha errado a mão. A segunda temporada de True Detective muda completamente as regras do jogo ao recomeçar inclusive os ares locais, provando que o ambiente em que a história se desenrola é tão importante quanto seus personagens. Estes são igualmente perturbados, mas com outras motivações, outros passados, outras preocupações. O próprio crime central não é tão dúbio quanto o da temporada anterior, montada em cima de depoimentos colhidos em épocas diferentes que nublavam maniqueísmos mais triviais. Até a metade da série não dava pra confiar em ninguém.
Não que os três detetives desta temporada sejam propriamente confiáveis. Ray Velcoro (Colin Farrell) é o primeiro a ser mostrado, com todos seus defeitos, decadente, viciado e corrupto, se esforçando para dar atenção a um filho que mora com a mãe e para apagar uma marca de violenta de seu passado, do pior jeito possível. A Ani Bezzerides de Rachel McAdams nasceu em uma comunidade hippie da Califórnia para se tornar uma policial literal, com todos os clichês da profissão – um extremo diferente do destino de sua irmã. Já Paul Woodrugh (Taylor Kitsch) é o personagem menos aprofundado – e por isso mesmo, o mais cifrado: um veterano da guerra do Iraque que hoje patrulha as autoestradas da Califórnia de motocicleta que envolve-se num incidente comprometedor. Três personagens pouco equivalentes e com rumos completamente diferentes na vida que, graças a um cadáver, encontram-se numa mesma investigação.
O quarto elemento da série é o único fora da lei. O gângster Frank Semyon interpretado por Vince Vaughn tem ares de executivo e colunável (principalmente ao lado da bela esposa, vivida pela bela Kelly Reilly), mas não esquece-se de seu passado sujo que lhe elevou ao posto de criminoso clean. E ao contrário do que pode parecer, seu vínculo com o homicídio que dá origem à investigação – e à nova temporada – é direto mas não tão óbvio, fazendo que ele também haja como um detetive.
Atrás dos quatro, um subúrbio fictício de Los Angeles chamado Vinci, uma vila industrial que exibe sua ossatura em forma de trevos e viadutos, prédios no horizonte e estruturas de metal, quase sempre filmados à noite ou no fim do dia ao som de uma grave percussão à espreita. Longos takes dissecam o esqueleto de uma cidade abandonada pelo progresso dos anos 70 e que pode voltar ao presente graças a uma nova elite política corrupta. A direção do chinês Justin Lin (responsável pelos melhores Velozes e Furiosos – do 3 ao 6 – e pelo próximo Jornada nas Estrelas) é um salto radical para longe da visão árida de seu antecessor, mas sem perder sua estranheza básica. E por mais que a natureza morta urbanística remeta aos filtros retrô das lentes de Michael Mann, os dois primeiros episódios dirigidos por Lin refletem uma sensação de David Lynch à série, que de alguma forma também estava presente na temporada anterior. Mas se o True Detective de 2014 tinha a estranheza caipira de Twin Peaks, Coração Selvagem e Uma História Real, o atual chama o Lynch urbano de Veludo Azul, Cidade dos Sonhos e Estrada Perdida. Há até momentos de delírio que parecem ter saído da imaginação do melhor picareta do cinema americano.
A segunda temporada de True Detective é um esforço considerável de fugir das expectativas da primeira – por isso se tudo parecia claro logo nos primeiros minutos do primeiro episódio da série no ano passado, nesta assistimos a uma lenta dissecção dos personagens e das relações que eles podem ter entre si até que, no final do episódio, tudo se encaixa.
Principalmente os atores. Esse parece ser um trunfo que a série assumiu para si: de funcionar como laboratório de atuações. Colin Farrell deixa seu personagem decair e seus momentos impulsivos não o constrangem tanto como as frases bobas de seus diálogos. Rachel McAdams é quem mais é exigida – e corresponde bem, principalmente por assumir o papel de protagonista feminino de uma série que foi criticada por tornar as mulheres da primeira temporada secundárias. Taylor Kitsch é pouco cobrado, tem poucas cenas e sua única expressão não revela muita coisa, o que pode indicar que ele pode ter cartas na manga para os próximos episódios. E, meu principal temor, Vince Vaughn não só não compromete a série com seu ar de canastrão como tem bons momentos, principalmente nos segundo e terceiro episódios. Um alívio seguido de surpresa.
E assim o início da segunda temporada retém elementos da série no ano passado, mas não de forma tão literal. Me refiro a sensações e ambiências – o clima pesado, um humor mínimo e áspero, pitadas inusitadas e inconvenientes de sexo e violência, doses de esquisitice, ambivalência moral. A trilha sonora mantém esse tom a partir da faixa de abertura – "Never Mind" do disco que Leonard Cohen lançou no ano passado. O existencialismo de Cohle, o vínculo sobrenatural, os ares do sul, a psicopatia – tudo isso parece ter ficado pra trás na primeira temporada para dar ênfase a essas características, que parecem aos poucos definir a linguagem policial própria de Nic Pizzolatto, que usa a investigação criminal como desculpa para descer ao fundo da alma humana.
Em seus três primeiros episódios, a segunda temporada de True Detective não supera sua antecessora, mas prende a audiência, a atenção e, em muitas vezes, a respiração.







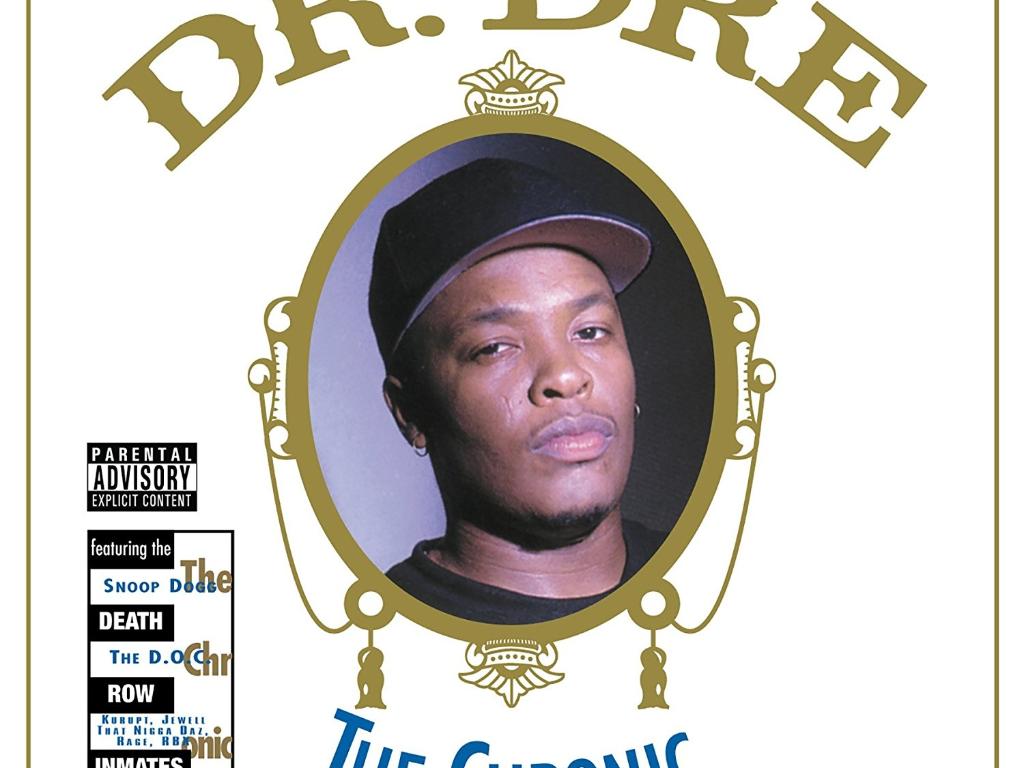





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.