Mulher Maravilha é o melhor filme já feito com um personagem da DC
Cheguei atrasado no bonde da Mulher Maravilha, sem o menor arrependimento. O filme de Patty Jenkins entra quase que instantaneamente para a minúscula categoria de filmes de super-herói que apresentam seus protagonistas de forma que agrade aos fãs dos quadrinhos bem como convença quem não faça a menor ideia quem são aqueles personagens. Nenhum dos sete filmes do Batman entra nessa categoria, o primeiro Thor e o Doutor Estranho quase chegam lá e apenas o primeiro Capitão América, o primeiro Homem de Ferro e o primeiro Super-Homem (o clássico, de Richard Donner, de 1978) desfrutavam deste pequeno Olimpo do entretenimento moderno. E agora a princesa Diana. Não é pouco: Mulher Maravilha é o melhor filme já feito com um personagem da DC.
A entrada da Mulher Maravilha como primeira representante feminina deste time é tão bem-vinda quanto sua aparição no deplorável Batman vs. Superman, também conhecido como o pior filme já feito. Sua apresentação é forte o suficiente para quebrar a atmosfera pesada e sombria de uma forma subitamente inesperada. Mulher Maravilha é um filme solar, diurno, mesmo quando caminha nas trincheiras da primeira guerra mundial. Jenkins foi esperta ao aproveitar que Zack Snyder não usou em seus filmes sobre o Super-Homem uma das principais qualidades do personagem – o lado positivo, pra cima, ingênuo e inspirador de um alienígena que acredita na raça humana. Assim, a diretora as esbanja sobre a sensacional Diana encarnada por Gal Gadot.
Gadot, por sua vez, é claramente um dos grandes trunfos do filme, um passe de mágica em forma de carisma que nos faz ter vergonha por esquecer de Lynda Carter, a Mulher Maravilha da televisão no final dos anos 70, durante toda a duração do filme – e além. Gadot nasceu para ser a Mulher Maravilha como Tony Stark é o personagem da vida de Robert Downey Jr. e Christopher Reeve é o eterno Super-Homem. Seu ar de ingenuidade para com a civilização e sua determinação nas cenas de ação carrega-nos para aquele estágio de suspensão de realidade em que você realmente acredita que aquelas cenas fantásticas estão acontecendo. E é claro que a beleza paralizante da atriz ajuda nesse papel.
Mas não é só ela. A direção de Patty Jenkins é a prova que realmente precisamos de mais diretoras mulheres no cinema. A abordagem das cenas de luta, a humanização na apresentação dos personagens secundários, a seriedade nas cenas mais intensas e desobjetificação do corpo da personagem principal dão um nó em vários clichês dos filmes de super-herói até então. O universo gráfico, barulhento e machista de super-heróis brigando entre si soa inteiramente monocórdico se comparado com este novo filme. Esse lado clichê, no entanto, não escapa nem ao filme de Patty Jenkins e seu terceiro e último ato é vergonhosamente o antônimo de tudo que o filme representava até ali.
Por dois terços, Mulher Maravilha é irretocável. A primeira parte do filme, que se passa na ilha mitológica de Themyscira, lar das amazonas a quem a personagem principal chama de família, consegue o estranho trunfo de colocar em movimento a versão visual mais aceita da mitologia grega, tratando a tela de cinema com retoques coloridos de pinturas renascentistas. Seu segundo ato, o grande momento do filme, apresenta-nos a um elenco de apoio de primeira (o Steve de Chris Pine, o Charlie de Ewen Bremner, o Sameer de Saïd Taghmaoui e o Chefe de Eugene Brave Rock, todos ótimos) enquanto mostra o mundo do início do século passado à protagonista, completa alheia à civilização fora de sua ilha mágica.
É aí que o filme transcende. Quando a recém-rebatizada Diana Prince passa a conhecer o que acontece no mundo fora do reino das amazonas, encontrando de frente o lado bom e o lado mau do ser humano, seu personagem ganha uma terceira dimensão rara nestes tipos de filme e levando o universo de personagens da DC no cinema para um rumo completamente diferente. Ao humanizar o tom do filme sem necessariamente humanizar uma heroína mitológica em mais de um sentido, Patty Jenkins abre uma janela que finalmente areja o tom claustrofóbico néon que paira sobre todos filmes da DC com a Warner (à exceção dos Batman de Christopher Nolan, apenas claustrofóbicos).
O fato de se passar no passado também ajuda nesse tom mais leve que Mulher Maravilha traz a este universo de personagens – e mesmo com o entendiante final cheio de explosões desnecessárias e cápsulas de poder, o filme não se perde no uso de geringonças tecnológicas que salvam a pátria ou de efeitos especiais. Estes são utilizados magistralmente na instantaneamente clássica cena em que a Mulher Maravilha se apresenta para o resto do mundo. Uma cena que sintetiza a importância do filme no cânone dos super-heróis, o carisma determinante de Gal Gadot e o pulso firme de sua diretora.
Além do terço final, Mulher Maravilha também peca por não ter um vilão convincente. Mesmo com o bem realizado jogo de cena feito com os personagens de Danny Huston e Elena Anaya, a revelação final não é tão surpreendente e faz o filme desandar feio em clichês hiperbólicos. A história em si (assinada também por Zack Snyder) também não é grande coisa, mas a forma como ela é conduzida faz que a motivação da protagonista assuma o papel do roteiro principal.
Tais defeitos, no entanto, não maculam o filme. O novo fôlego que Mulher Maravilha sopra sobre o infame estado que a Warner deixou o universo DC (depois das duas últimas bombas, Batman vs. Super-Homem e Esquadrão Suicida) é tudo que o estúdio poderia desejar. Mesmo derrapando na saída, Mulher Maravilha cogita a possibilidade que os próximos filmes da DC possam se recuperar do mico deste passado recente – sem tentar parecer com a Marvel, criando seu próprio universo de sensações e sentimentos que não seja um mero arremedo caricato da concorrência. Palmas para o filme.



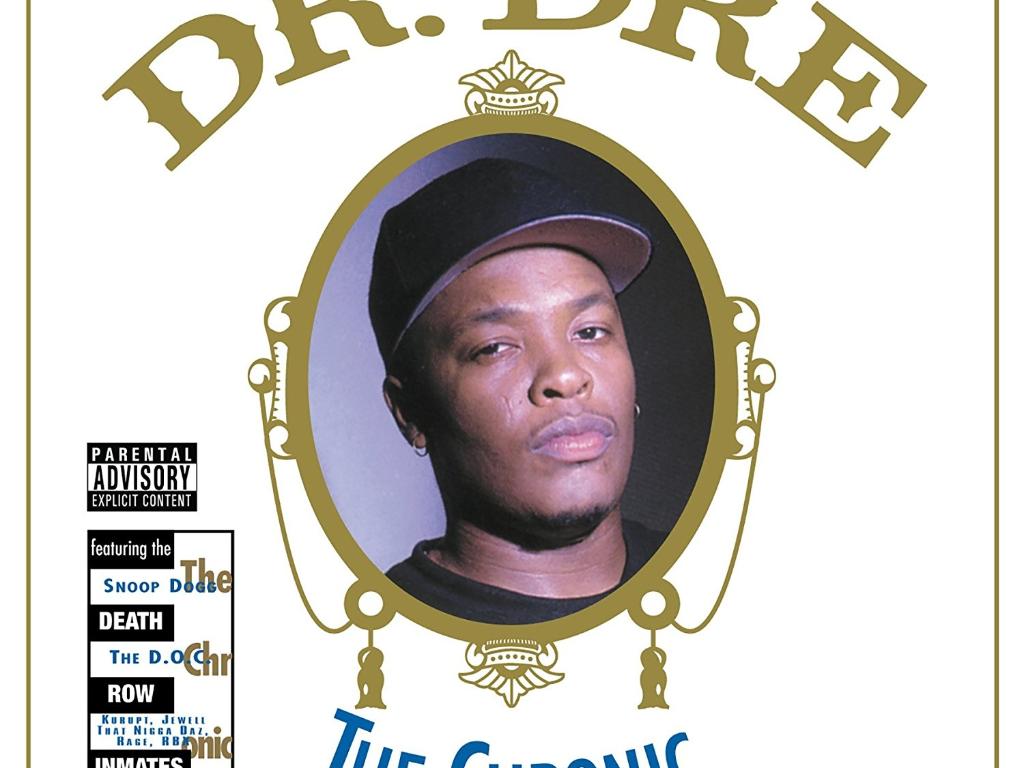





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.